O Livro da Imagem / Le Livre d' Image

19 FEV // 21H30 // TEATRO DAS FIGURAS
O LIVRO DE IMAGEM, Jean-Luc Godard, Suiça/França, 2018, 84', M/14
Título Original: Le Livre d’Image / Realização, Argumento e Montagem: Jean-Luc Godard / Fotografia: Fabrice Aragno / Colaboração:Nicole Brenez, Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia / Com: Jean-Luc Godard, Dimitri Basil / Origem: Suíça/França / Ano: 2018 / Duração:84’/ Classificação etária: M/14
Festivais e Prémios: Festival de Cannes - Palma de Ouro Especial
Críticas
A utopia necessária
Facto: em 2018, Jean-Luc Godard realiza Le livre d’image (O Livro de Imagem, 2018). O filme teve por título provisório “Imagem e Palavra”, uma vez impresso num plano feito de palavras. Compõe-no em cinco partes numeradas com algarismos e chama-lhes 1) Remakes, e em variação Rima(s)kes, como no cinema; 2) As Noites de São Petersburgo, título do romance de 1821 de Joseph de Maistre, que cita no filme; 3) Estas Flores em Carris ao Vento Confuso das Viagens, a partir de um verso do Livro da Pobreza e da Morte de Rilke, que publicou a primeira edição do seu Livro das Imagens em 1902 coligindo poemas em grande parte escritos num diário de juventude; 4) O Espírito das Leis, tomado ao tratado político de Montesquieu em 1748, cuja capa da edição francesa surge num dos planos; 5) A Região Central, como o título do filme da paisagem desértica canadiana em 360 graus de Michael Snow, mas olhando na direcção da Arábia. A Arábia Feliz, do latim Arabia Felix, quando a parte meridional da península arábica (actuais territórios do Iémen e Omã) era uma região fértil e próspera em contraste com a Arábia Deserta.
Facto: O número cinco é um dado de partida: “Há os cinco dedos. Os cinco sentidos. As cinco partes do mundo. Sim, os cinco dedos da fada. Mas todos juntos compõem a mão. E a verdadeira condição do homem é pensar com as próprias mãos”. A tirada de Denis de Rougemont, Pensar com as Mãos, também vinda das Histoire(s) du cinéma, é a primeira coisa que se ouve no livro de imagem, na voz cava de Godard, que conta o seu livro sendo uma de várias vozes off. Também se ouve o escritor egípcio Albert Cossery, de quem na quinta parte do filme se cita Uma Ambição no Deserto (1984). A citação é relativamente longa, como sucede com Dans l’ombre de l’occident do intelectual palestiniano de experiência ocidental Edward Said, publicado em França juntamente com um ensaio de Seloua Luste Boulbina, Les arabes peuvent-ils parler? de que há também aqui um eco. “Os árabes… podem os árabes falar?”
Facto: numa conferência de imprensa suis generis em Maio último, em Cannes, onde o livro de imagem estreou, também provando que Jean-Luc Godard sabe orquestrar um acontecimento, afirmou ele, da Suíça, via iPhone, que o filme foi preparado nos últimos três, quatro anos, e socorrido por uma associação suíça representada por Fabrice Aragno. No início dos créditos finais, que não são o fim do filme, em letras esbatidas sobre fundo negro estão impressos quatro nomes. O primeiro é o de Godard. Os três seguintes assinalam os apelidos de Fabrice Aragno, colaborador na fotografia de Notre musique (A Nossa Música, 2004)), na imagem e no desenho de som de Film socialism (Filme Socialismo, 2010), Les Trois Désastres (Os Três Desastres, 2013), Adieu au langage (Adeus à Linguagem, 2014); Jean-Paul Battaggia, produtor executivo de Film socialism, Notre musique, e antes disso de depois da reconciliação, de Anne-Marie Miéville (2000); Nicole Brenez. A ficha técnica acima reproduz o que sabe das funções que ocuparam no filme.
Facto: depois dos apelidos esbatidos, uma sequência de dez planos elenca as múltiplas referências de livro de imagem, explicitando-se em letras maiúsculas sobrepostas em intermitência, Textos, Filmes, Quadros, Música, Todos Eles. O elenco inclui títulos de livros, escritos, filmes, pinturas, músicas, canções, fotografias, autores, um motor de busca. Em off, continua a ouvir-se Godard. A última afirmação é “e mesmo que nada tivesse sido cumprido como nós havíamos esperado isso em nada alteraria as nossas esperanças”. Como o plano inicial, o plano final não tem som. São eles, a silhueta a branco de uma mão fechada com o dedo indicador em riste sob fundo negro; a dança “french cancan” em que o homem de cartola acaba a cair por terra sob o olhar admirado da rapariga, filmada por Max Ophuls em Le plaisir (O prazer, 1952), o tal filme rodopiante a partir de Maupassant em que se diz, “Le bonheur n’est pas gai”. Correcção: no final há um último “tlim” sobre um plano a negro; antes da mão em riste, há um plano a negro com um silvo agudo e curto. É ele que põe em marcha Le livre d’image, de uma ultra-elaborada banda de som. E de uma ultra-elaborada banda de imagem. E de um trabalho ultra-elaborado no diálogo entre as duas, que, cada uma por si, se desdobram em diálogos internos.
Facto: nada do que acima está escrito diz muito sobre Le livre d’image.
Nunca se viu nada assim. Em Adieu au langage, magnífico filme de há quatro anos em que um canídeo de ar melancólico sonha com as ilhas Marquesas, saudou-se muito especialmente a inventividade de Godard, que numa imagem muitas vezes saturada, pintada em cores primárias e de aguarela, mostrou para que serve a imagem tridimensional num ecrã de cinema, pondo literalmente em relevo o relevo de “três desastres”. Isto para não recuar a outro tempo do cinema, À bout de souffle (O Acossado, 1960), em que Jean-Luc Godard estava ainda no seu “tempo de acção” e não tinha ainda chegado ao “tempo da reflexão” – o que nos seus termos aconteceu à segunda-longa metragem, Le petit soldat (O Soldado das Sombras, 1963), que até por acaso é o primeiro dos seus vários filmes que entram no Le livre d’image. Isto elidindo os muitos filmes, fases, pequenos terramotos, o abalo das Histoire(s) du cinéma nos anos 90, a primeira explosão, mediterrânica, de Pierrot le fou (Pedro, o Louco, 1965), em que Jean-Paul Belmondo, antes de verbalizar que afinal é um idiota, pinta a cara de azul, a envolve em dinamite vermelha e acende um fósforo. Pois agora tudo explode. Na imagem, no som. Nunca se viu nada assim.
As imagens e os sons do filme com nome de livro são na sua maioria roubados. (“Quando a lei é injusta a justiça passa antes da lei” em sobreposição ao logótipo do FBI, o final de Film socialism, com o movimento de câmara de Welles, “No Trespassing”, também está no Le livre d’image.) Tomando-os, JLG representa-os, e este também é, muito, um filme a braços com a representação. E o que faz? Às imagens satura, pinta, queima, imprime outro ritmo, retoma, sobrepõe, dilata, comprime, interrompe. Sacode, até bruscamente, fazendo saltar os formatos de imagem. Aos sons sacode, a mesma brusquidão nas passagens de uma a outra pista da banda, desregula no volume, vozes ora sussurradas, ora baixas, ora altas, ora para se ouvirem em grande plano, ora para se ouvirem em plano de fundo, ora uma ora duas ora uma em duas a fôlegos diferentes. E interrompe, entrecorta com silêncios momentâneos mas recorrentes, fá-las conviver com sons docemente musicais ou estridentes como bombas. Nunca se sabe quando a imagem vai saltar, nunca se sabe quando o som vai calar-se ou disparar de um canto da sala diferente do do último disparo. Só excepções.
No sentido d(ess)a sua selvajaria, Le livre d’image parece um filme caótico, não à beira do abismo mas ao lado do abismo do mundo que é o lado onde Godard se põe. Só que não. Essa “selvajaria” parte da matéria histórica, cinematográfica, literária, pictórica, musical, mediático-contemporânea, da sua evocação, desfasamento, desfazer, crítica. Para a sua própria representação. E tem uma forma. A sua forma implica a forma não abdicando do rigor formal, nas muitas, muitas entrelinhas em que Godard sempre foi pródigo e aqui atingem uma intensidade inaudita, que vem de todos os lados para “arrumar” o espectador. Uma espécie de KO imediato que faz com que se fique com o filme uma vez a projecção acabada, e não atordoado longe dele. É uma sensação nova que pode ou não ser partilhada, a deste filme de JLG ser o fim de alguma coisa, pelo seu lado testamentário, indissociável da presença dele pela voz, muito cava, muito convicta. Simultaneamente um novo começo, como se, de tão revoltado com o estado das coisas, se tivesse decidido por um novo “tempo de acção”, necessariamente uma acção de – no, pelo – cinema. É o lado “terrorista” de Le livre d’image. As nuances estão todas, por assim dizer, na montagem, seja ela ou não ainda uma “bela inquietação”, nos cortes, nos raccords.
O do diálogo de amor em negação de Johnny Guitar (1954) e Le petit soldat, remake, encadeado através de um corte abrupto que cala a última fala de Vienna / Joan Crawford a Johnny / Sterling Hayden, embora saibamos que ela joga o jogo daquelas palavras até ao fim. O da lei e Young Mr. Lincoln (A Grande Esperança, 1939), quando o jovem Abraham Lincoln / Henry Fonda descobre uma edição imaculada de Blackstone’s Commentaries no barril de uma caravana recém-chegada à sua pequena cidade. O do comunismo e Eisenstein. O de Vertigo (A Mulher Que Viveu Duas Vezes, 1958) e Hélas pour moi (Valha-me Deus, 1993). O do genérico falado de Le mépris (O Desprezo, 1963) quando correm os créditos finais. Citam-se apenas quatro dos mais óbvios. Como a recorrência de imagens de comboios, da evocação matricial da percepção do susto da primeira entrada na gare dos Lumière à sequência dos planos de comboios que conduzem ou correm para a guerra.
Haverá muitos textos, interpretações, sobre este Le livre d’image, possivelmente muita escalpelização. A matéria é vasta, a vontade de decifrar fontes e subtilezas, irresistível. A fixação que JLG tem em trabalhar determinadas imagens, frases soltas, também convida a isso. É por exemplo impressionante perceber que uma tirada importante “sobre” recordações destroçadas em Adieu au langage se ouve em fundo como diálogo de um filme na cena do namoro numa sala de cinema de Patricia Franchini / Jean Seberg e Michel Poiccard / Jean-Paul Belmondo em À bout de souffle. Mas enfim, é outra história. Aqui, tentar-se chegar a como JLG faz confluir a História, de olhos postos no mundo árabe, e o cinema, com o seu olhar que vem de longe e vai fundo, sem deixar nem uma nem outro. Não deixa. Os Remakes podem ser o primeiro dos cinco andamentos e A Região Central o último, mas contaminam-se. Os encadeamentos entre os cinco passos têm uma lógica e dirigem-se sem tréguas ao mundo de hoje, certo. Mas nem por isso estes cinco “passos” se vão dispensando. Como os ditos cinco dedos que, juntos, compõem a mão, com a qual é preciso pensar. “Na harmonia, os acordes produzem melodias. No contraponto são as próprias melodias de cujo inverso resultam os acordes.” Le livre d’image move-se no território do contraponto.
O primeiro raccord de Le livre d’image talvez se faça fora de campo. Se nos lembrarmos que as duas últimas frases de Adieu au langage são “Malbrough partiu para a guerra! Não sabe quando voltará!”, talvez nos ocorra que este filme seguinte está lá. “A guerra aí está”. É de um mundo em guerra que JLG fala, zangado. Com as repetições da História por exemplo. Por isso este filme a toma por matéria, por isso, e por tudo o resto propondo a sua novidade. É um filme novo de um homem velho de idade, que quando se engasga na sua própria rouquidão acelera o ritmo e continua, e deixa o atropelo em si mesmo sobrepondo a sua voz em dois tons. Zangado, mas não aniquilado. “Esperança ardente”, diz ele. “Assim o passado era imutável assim as esperanças permanecerão imutáveis e aqueles que um dia quando éramos ainda jovens tinham alimentado… esperança ardente de se indagarem… quando nós o fizermos… e mesmo que nada tivesse sido cumprido como nós havíamos esperado isso em nada alteraria as nossas esperanças.” Mesmo no fim, volta o cinema, é a dança de Ophuls na sobre-exposição da imagem electrónica de Godard no século XXI, calada a banda de som. Ponto final mudo num filme que dá a ouvir a “tridimensionalidade” do som, mostrando o que serve um desenho sonoro de múltiplas pistas.
Maria João Madeira
Texto originalmente publicado como Folha de Sala aquando da ante-estreia do filme na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (dia 1 de Setembro de 2018).

Encontrei a definição do Belo – do meu Belo.
É algo ardente e triste, algo um pouco vago,
deixando caminho à conjectura.
Charles Baudelaire, in O Meu Coração a Nu precedido de Fogachos
É com os cinco dedos de uma mão que Jean-Luc Godard se lança – nos lança – no folhear deste Le livre d’image (O Livro de Imagem, 2018). Vamos pensar com a mão. Vamos abrir com uma aleatoriedade reflectida as páginas de um arquivo em ebulição, imagens em contacto com a lava de uma secreta atividade vulcânica. A que é que nos podemos agarrar? A um discurso febril, palavras inteiras ou retalhadas, frases reunidas num cortejo sincopado, umas roubadas outras consubstanciadas na voz quebrantada do próprio Godard. São senhas para entrar na performance onírica do filme-livro, onde filmes (seus e dos outros), pinturas, guerra, sangue, Oriente/Ocidente, o mundo árabe e outras arqueologias materiais e imateriais, nos ferem o olhar com uma beleza ardente e triste.
Aliás, não sei se há imagem melhor para traduzir a ideia desta experiência senão aquela famosíssima do corte do olho em Un chien andalou (Um Cão Andaluz, 1929), de Buñuel, que surge neste Le livre d’image como um comentário pungente. Godard corta-nos o olho com imagens-lâmina, fragmentos de uma oração profana que seduz pela sua energia peculiar. Como diz o cineasta a certa altura, citando Brecht, “só o fragmento tem a marca da autenticidade”. E é de pedaço em pedaço que se tacteia a verdade desta montagem, trespassada por um sentimento de pesadelo em noite de trovoada.
Ainda sobre o “pensar com a mão”, apetece contar, na primeira pessoa, o que aconteceu após o segundo visionamento do filme, como consequência de quem tenta domesticar esse animal selvagem numa folha em branco (entenda-se: incumbi os meus cinco dedos da mão direita de tentarem apanhar alguns dos fragmentos de Le livre d’image, método a que muito raramente recorro). Quando, fora da sala escura, observei o que seria o material de apoio para trabalho, não me restou senão fazer um esgar solitário, na medida em que aquilo que tinha diante dos olhos poderia ser um objeto de arte godardiano.
Escrevi palavras em cima de palavras, outras cruzadas como um jogo do galo, e outras ainda com uma caligrafia ilegível. Digamos que há qualquer coisa de muito formalmente semelhante entre esta folha solta, inaudito fragmento, e o próprio “livro audiovisual”. Uma magnificência nascida da poesia bruta, como aquela que compõe os diários íntimos, Fogachos e O Meu Coração a Nu, de Baudelaire. Pensamentos que queimam a ponta dos dedos.
Bécassine? Johnny Guitar? Le testament d’Orphée? Le plaisir? Malraux? Hölderlin? Los Olvidados? Salò o le 120 giornate di Sodoma?… O que vem antes, o que vem depois? Onde fica o princípio, meio e fim? Já se sabe que, em Godard, não é necessariamente esta a ordem. E escusamos de a procurar. A única hipótese é deixarmo-nos envolver na interna dança rodopiante, e na fervura das imagens e sons que se dizem.
Inês N. Lourenço · Em Dezembro 5, 2018, À Pala de Walsh
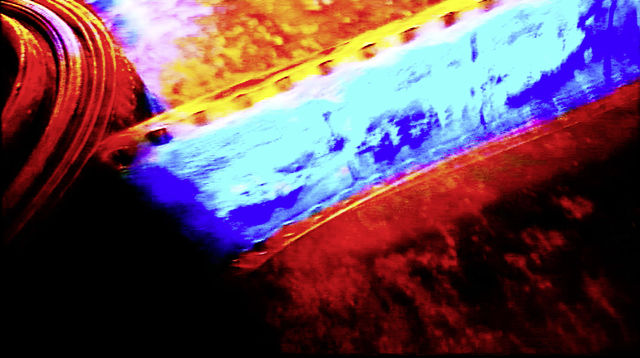
Outras leituras:
Le livre d’image: Nunca há pontos finais, Sabrina D. Marques · Em Dezembro 30, 2018. À Pala de Walsh
Godard, em todo o lado, Vasco Câmara em Cannes .
